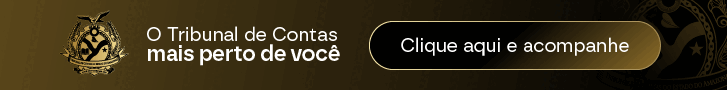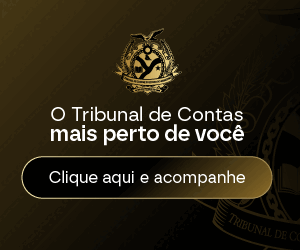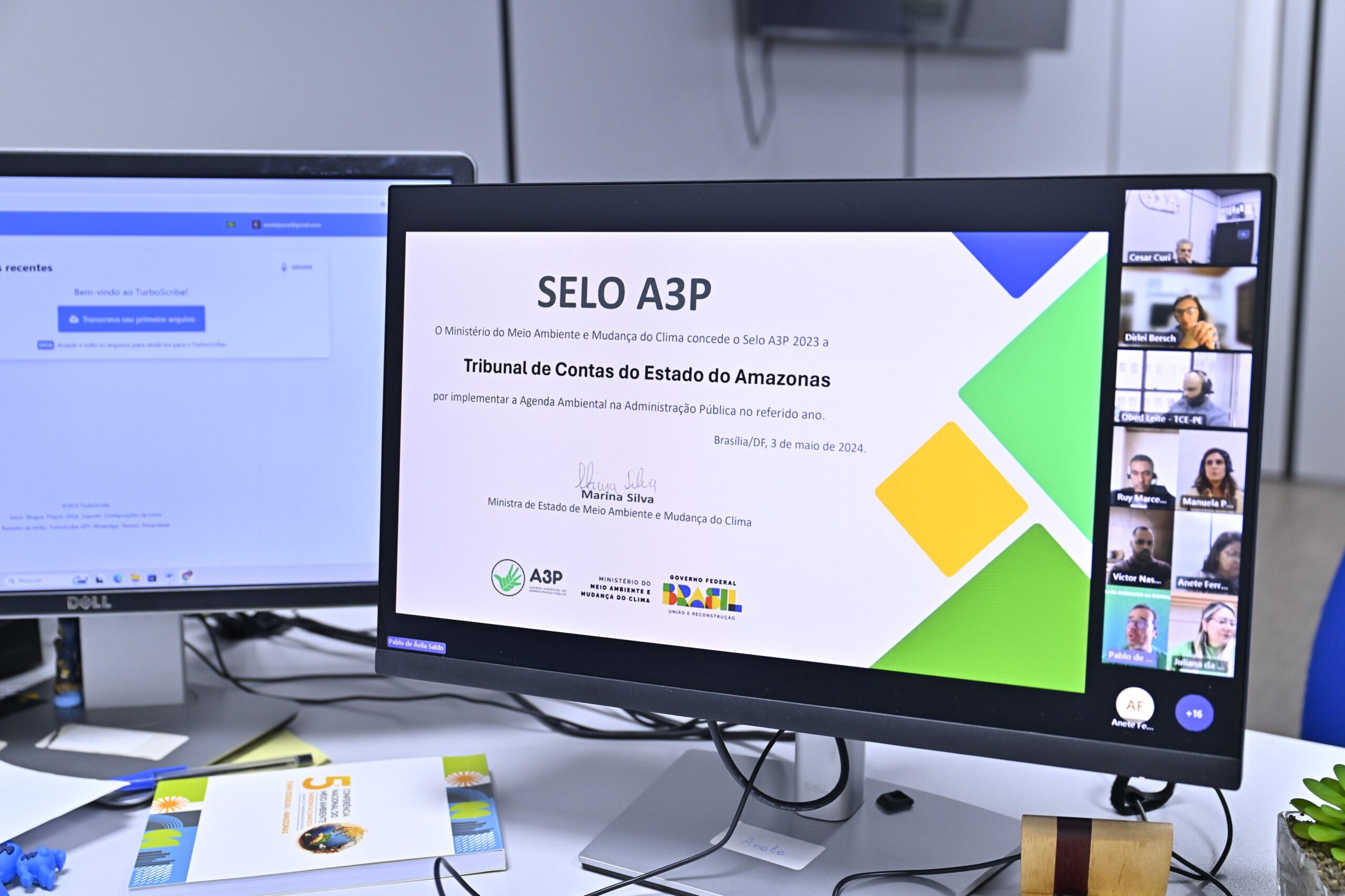Lenir Camimura (Agência CNJ de Notícias )|
As barreiras para realizar o depoimento especial de crianças e adolescentes especificamente de comunidades tradicionais – como indígenas, quilombolas e ciganos, entre outros – não são apenas estruturais. Há dificuldades relacionadas à língua, à capacitação de equipe técnica e até às distâncias geográficas. Contudo, o esforço de juízes e juízas em todo o país tem permitido que as vítimas sejam protegidas e tenham seus direitos preservados.
Durante as discussões realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a construção do Manual Prático de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes Pertencentes a Povos e Comunidades Tradicionais, o grupo de trabalho percebeu dificuldades que vão além da estrutura e logística. Segundo a juíza auxiliar da Presidência do CNJ Lívia Peres, as comarcas são tão afastadas, que não têm estrutura mínima, como internet. Também faltam pessoas capacitadas para realizar o depoimento especial. “O CNJ está trabalhando pela efetivação dos direitos humanos, que é um dos eixos da gestão do ministro Luiz Fux. Temos olhado para a diferença e assumido uma política de inclusão e inovação que deve contagiar todo o Judiciário.”
Além de todas essas nuances, a Justiça ainda precisa entender a cultura local para aplicar a lei. Para isso, a consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e antropóloga Luciana Ouriques reforça que os tribunais devem desenvolver um plano de ação com as suas próprias estratégias para concretização das diretrizes estabelecidas no Manual, visando atender as especificidades dos povos comunidades tradicionais. “Cada localidade trabalha com um conjunto de povos, portanto, o documento não é um protocolo a ser aplicado da mesma forma em todos os locais. É preciso respeitar a diversidade e as estruturações do próprio Judiciário em cada uma das comarcas, considerando ainda a diversidade geográfica do território.”
Luciana Ouriques, que foi responsável pela produção do diagnóstico que embasou o desenvolvimento do manual, destacou também os desafios da construção de uma política judiciária universal. “É preciso atender a todos, mas ao mesmo tempo deve contemplar cada comunidade tradicional reconhecida. Apenas entre as comunidades indígenas, isso significa considerar 28 povos, que representam 305 etnias, falantes de 274 línguas diferentes, segundo dados do IBGE.”
O depoimento especial constitui um dos atendimentos prestados pelo sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes vítimas de violência que deve primar pela não revitimização. Para tanto, faz-se necessária a atuação sistêmica e coordenada entre as instituições que integram esse sistema — Judiciário, segurança e rede de proteção. Nas comunidades tradicionais, o fluxo dos atendimentos prestados precisa adquirir contornos interculturais de modo a contemplar as especificidades linguísticas e socioculturais.
Projeto-piloto
No Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), as comarcas de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga participaram do projeto-piloto que resultou no diagnóstico antropológico que fundamentou o manual. Lidando com povos tradicionais indígenas, a língua é um dos principais desafios enfrentados pelo Judiciário na implantação da escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
Terceiro maior município brasileiro, São Gabriel da Cachoeira abriga 23 povos etnias. Segundo o juiz da comarca, Manoel Átila Autran, são cinco “línguas oficiais” na região: português, tucano, yanomami, tupi-nheengatu e baniwa. O município fica no extremo noroeste e faz divisa com a Colômbia e a Venezuela, e 90% da população são de origem indígena.
“São Gabriel é um museu antropológico a céu aberto. Muitos já estão inseridos na cultura das cidades e falam português, mas ainda há aqueles que conseguem se comunicar melhor em sua língua nativa”, observa. O magistrado explica que apenas na língua yanomami há quatro dialetos diferentes, o que dificulta ainda mais a capacitação dos profissionais. “Temos dificuldades de encontrar intérpretes de espanhol para ajudar com o aumento da migração de venezuelanos na região. Conseguir tradutores da língua indígena é mais difícil ainda.”
Há uma psicóloga habilitada pelo CNJ para a tomada da escuta protegida e ela está se especializando na língua tucano, que é a de maior incidência na região. O juiz explicou que já faz o acompanhamento das comunidades tradicionais desde 2019. “Desde então, tivemos 13 processos de crianças nativas. São situações marcantes e temos atenção especial nesses casos.”
Manoel Autran explica que uma das questões culturais mais comuns é o entendimento de que as meninas se tornam mulheres com o primeiro ciclo menstrual e, por isso, poderiam ser iniciadas na vida sexual, independentemente da idade. O juiz alerta, contudo, que a maioria dos casos de violência contra essas crianças são cometidos por pessoas que não são aldeadas. “A etnia de recente contato mais arisca são os yanomamis. Mesmo assim, um de seus membros é vereador.”
Além disso, há dificuldades com o tamanho do município e a estrutura do Judiciário. “A demanda aumentou muito, especialmente com a pandemia, e nossa estrutura ainda é precária”, afirma. De acordo com Autran, o projeto “Amazônia Conectada” – programa do governo federal que conta com o apoio do Exército e do governo do Amazonas para implantar fibra óptica nos leitos dos rios da Amazônia – chegou à cidade no final do ano passado para melhorar a internet local. “Temos algumas situações que quem não vivencia o Amazonas não consegue entender.”
A Justiça em Tabatinga enfrenta situação similar. Quando o projeto-piloto do CNJ chegou, a juíza titular da comarca, Bárbara Nogueira, já tentava adaptar os procedimentos de depoimento especial com as crianças indígenas. Terceira cidade com maior população indígena do país, ela engloba as terras dos povos ticuna e kocama, ambas de comunidades de recente contato, além de outras etnias menores, em situação de isolamento. A comarca, que fica no extremo oeste do Amazonas, tem intérprete, mas ainda não conta com entrevistadores forense capacitados para fazer a escuta protegida. “Há dois intérpretes que apoiam o Judiciário, mas ainda não conseguiram fazer o curso por causa da falta de internet e da alta demanda de tradutores.”
Reconhecendo desafios
A magistrada afirmou que, atualmente, paga cerca de R$ 1,2 mil para ter internet, fazer uma ligação ou acessar uma plataforma de mensagens. “Mais do que padronizar os procedimentos, o Manual Prático do CNJ mostra que existe essa dificuldade ao lidar com comunidades tradicionais. Falta cadastro de intérpretes, falta conhecimento antropológico, falta um sistema que permita identificar os processos com presença indígena. Reconhecemos a necessidade de aprimoramento de nossos serviços.”
O trabalho é desenvolvido em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena – e com a Fundação Nacional do Índio (Funai). Esse apoio permite que haja intérpretes e estrutura mínima para fazer intimações. “Muitas comunidades têm o polo de saúde, com um computador com internet suficiente para receber um e-mail. Dessa forma, notificamos o indígena daquela comunidade. Antes disso, os processos ficavam parados, sem termos como encontrar os envolvidos”, explica a juíza.
Bárbara reconhece também a necessidade do estudo antropológico e reforça a importância de o Judiciário buscar conhecer o direito indígena. “Nas audiências, percebemos as diferenças de cada etnia e, ao buscar esse conhecimento, podemos oferecer um serviço mais humanizado.”
Por meio do DSEI, os laudos psicossociais já são feitos dentro das comunidades e encaminhados à Justiça. O próximo passo, segundo a juíza, é levar o depoimento especial também. No primeiro semestre de 2022, a magistrada e sua equipe devem levar o Judiciário para dentro da comunidade de Belém do Solimões, composta por 10 pequenas aldeias, com mais de cinco mil habitantes, sendo 95% da etnia tikuna e o restante kocama. “Já viabilizamos o barco e a gasolina. Estamos trabalhando para fazer as audiências e verificar as demandas estruturais, para que possamos estabelecer um posto da Justiça ali também.”
A partir do projeto-piloto, o Judiciário começou a conhecer mais as comunidades e aproximou-se dos indígenas. Realizaram encontros com as lideranças e houve boa receptividade. A juíza explica que as comunidades reconhecem os procedimentos da Justiça como válidos e, apesar de terem sua própria “guarda indígena da comunidade”, acreditam que vale a pena levar a acusação para julgamento. “Antes desse contato, as comunidades não entendiam o trâmite judicial, porque não viam o processo se resolvendo. Mas nas reuniões pudemos explicar como tudo funciona. No ano passado, tivemos reuniões com as mulheres. Elas sabem o conceito de crime, de certo e errado, e muitas já são líderes de suas comunidades, o que antes era papel apenas dos homens.”
Para a magistrada, a continuidade do trabalho nessas regiões envolve uma série de fatores, incluindo a boa-vontade dos envolvidos. “Já temos visto alguns resultados e isso nos incentiva a continuar.” Ela conta que, depois de algumas reuniões, uma das lideranças cometeu um crime e a própria comunidade o levou – de barco – para a delegacia. “Eles entenderam que a Justiça vai tomar conta. Haverá o processo, que eles podem ter acesso ao fórum e não terão de fazer malabarismos para entender o que está acontecendo. E quando eles sabem que uma criança será ouvida nesses mesmos moldes, sentem-se prestigiados.”
Foto: Raphael Alves